Encenação de Hugo Possolo não se propôs a ilustrar uma tese, mas a instaurar um teatro ativo e ativista, a começar por um pensamento que se manifesta pela forma, enraizado no lugar cultural em que se inscreve
Por Diósnio Machado Neto*
Montar Don Giovanni hoje é uma tarefa que exige escolhas – e nenhuma delas é neutra. No Theatro Municipal de São Paulo, Hugo Possolo assumiu esse risco com engenho: transformou a cena em território de deslocamento crítico, onde a descolonização não surge como ilustração conceitual, mas como gesto encarnado de linguagem. Nada de rupturas gratuitas, tampouco de reverência museológica. O que se viu foi uma leitura viva, provocadora, que expôs o cânone ao jogo das tensões epistemológicas – e ao riso. Sobretudo, ao riso.
A encenação parte de uma interrogação fundamental: como fazer Don Giovanni ressoar em um Sul Global em busca de emancipação crítica – um espaço atravessado por heranças coloniais, desigualdades estruturais de classe, resíduos arcaicos de patriarcalismo e práticas teatrais populares de longa duração, mas que também protagoniza giros epistemológicos decoloniais? A resposta não foi declamada, mas construída cenicamente – com argúcia dramatúrgica e coragem simbólica. Desde os primeiros momentos, a montagem articula o registro do bufo sem esvaziar a densidade trágica. Outro acerto está na transição sutil entre símbolo e alegoria – sem resvalar no panfleto, nem ceder à caricatura, mesmo ao evocar signos familiares da cultura de massa.
Possolo extrai da obra sua densidade filosófica: aquilo que transforma arte em pensamento formalmente encarnado. Como na cena da troca de roupas entre Don Giovanni e Leporello – aqui expandida pelo uso da duplicidade de Janus, símbolo de um narcisismo estrutural que desmorona somente quando os álter egos colapsam em conjunção. A ação não se reduz ao plano teatral: constitui uma alegoria crítica da duplicidade social que ancora o próprio gesto de dominação.
Outro aspecto positivo é que há, nesta encenação, um uso agudo e estrutural da commedia dell’arte – não como adereço cômico, mas como matriz dramatúrgica que organiza uma lógica do desvio. A ironia da dupla face não se limita ao plano estilístico: é uma operação política. Ativa-se aqui um teatro da duplicação, no qual o riso não dissipa a tensão – ao contrário, revela as fissuras. É nesse registro que Donna Anna se afirma sujeito de si, recusa a tutela protocolar de Don Ottavio e inscreve no palco, ainda que em gesto pontual, a máxima dissidente: “poder às minas”. Elvira, por sua vez, tropeça na inércia de sua denúncia: arrasta malas – muitas – carregadas de rancor e humilhação, sem conseguir escapar do enquadramento patriarcal que a fixa e a reinscreve no erro.
A última ceia de Don Giovanni é, nesta encenação, a substanciação do entrelugar que escreve Possolo. Ao som de uma giga, faz-se a grazia galante: dança e condenação se entredevoram, e o riso final não redime – consome. Don Giovanni não desce ao Hades como herói, mas como bufão; e é o escárnio que o engole, rindo da própria autoestima que encena como se fosse potência. Ao contrário de Orfeu, Héracles ou Fausto, sua queda não decorre da transcendência: é a coletividade que o arrasta.
Isso é o bufo. A punição, aqui, não emana da transcendência moral dos deuses olímpicos, mas de uma ordem outra: a dos deuses do riso, do excesso e da dissimulação – regida por Dionísio, senhor das máscaras e do delírio. Não é a justiça dos céus que condena Don Giovanni, mas o tribunal farsesco do teatro, onde a verdade se revela não pelo castigo exemplar, mas pela subversão do trágico por meio do grotesco. É nesse território liminar, onde o sagrado se confunde com o escárnio, que a queda do protagonista assume sua forma mais radical: não a aniquilação heroica, mas a dissolução bufonesca de um poder que já não se sustenta nem mesmo como farsa.
E então, o bufão é coroado. O burro sobe ao trono – e essa cena final, construída com riso e vertigem, reativa uma das imagens mais incisivas da tradição satírica europeia: a inversão carnavalesca da ordem. Possolo, contudo, evita o niilismo cínico. Seu gesto obedece ao protocolo para reconfigurá-lo: a giga final, rito de autocelebração de Don Giovanni, torna-se intervalo tenso, hiato dramatúrgico onde ecoa um anúncio coral de Hades, em chave trágica. O burro, aqui, é figura crítica, o verdadeiro gracioso – máscara farsesca de um poder em ruína, tragado por sua própria autoafirmação. Essa releitura sutil vincula Don Giovanni à linhagem do teatro popular, da chanchada e da rua, onde o grotesco é ainda uma forma de pensamento. Palmas!
Na condução musical, Roberto Minczuk imprime sua marca: leitura clara, precisa e articulada, que reconhece no estilo galante não mera superfície ornamental, mas um sistema expressivo governado por contrastes estruturais. Minczuk compreende – e realiza – aquilo que Wye Allanbrook descreveu como núcleo retórico do galante: o jogo gramatical entre topoi, onde o contraste não é efeito, mas motor da emoção controlada. É esse campo de tensões que o regente mobiliza, mesmo sem ativar todos os signos ou explicitar a totalidade semântica do discurso sonoro.
Sua interpretação sustenta-se por uma fluência formal que associa Haydn e Mozart a uma estética da leveza incisiva: uma música que pensa sem se converter em sistema; que elabora sentido sem maneirismos interpretativos. É sua marca para o século XVIII. Porém, em certos momentos, talvez ceda à aceleração, comprimindo os tempos internos da retórica clássica, por si só uma malha intrincada de semiótica. Mas isso não compromete a semiose da obra: seu controle do todo preserva o fluxo simbólico, ancorado em equilíbrio narrativo. Em outras palavras, Minczuk afirma a eloquência por meio de uma escuta não decorativa, revelando – por fricção mais do que por ênfase – a arquitetura discursiva do galante.
Por fim, esta encenação não se propôs a ilustrar uma tese, mas a instaurar um teatro ativo e ativista, a começar por um pensamento que se manifesta pela forma, enraizado no lugar cultural em que se inscreve. Um teatro que se realiza num entrelugar discursivo: zona instável onde vínculos afetivos e pertencimentos identitários se fragmentam, frequentemente sem resolução. É nesse território ambíguo que ressoa, também, o cânone musical. E, como em outras esferas simbólicas, sua autoridade não se funda em saberes partilhados, mas em um regime estético historicamente moldado pelo colonizador. O som, nesse contexto, não se escuta como herança viva, mas como vestígio – índice de uma história que impôs seus códigos sob o nome da universalidade. Quando essa promessa do universal se converte em protocolo normativo, até mesmo o entrelugar perde sua potência crítica, reduzindo-se a um espaço saturado, esvaziado de agência – um campo auditivo onde o poder ainda fala mais alto do que a diferença. Mas isso não implicou estagnação ou niilismo. Ao contrário: aqui, o teatro de Possolo reinscreve sua potência crítica como práxis simbólica insurgente, alinhada ao giro epistemológico que inverte e desloca os mapas da cultura – como na iconografia da América Invertida, de Joaquín Torres García. Trata-se de uma inversão que, ao restituir os nomes aos seus lugares, dá a César o que é de César. Pois já é tempo de estranharmos um Don Giovanni que ainda não confrontamos com o feminicídio que ceifa nossas mulheres – forma de violência que jamais encontrou ritual, glória ou celebração nas cosmologias originárias deste continente. Não há – nem poderia haver – um Don Giovanni tupi. Nesses mundos outros, a morte não operava como dispositivo de soberania, mas como transição integrada ao fluxo da vida; e o feminino, longe de figurar como território a ser conquistado ou aniquilado, constituía um eixo vital em sistemas relacionais de reciprocidade e complementariedade, não de sujeição.
Essa é a tragédia não desvelada no cânone bufonesco de Don Giovanni – o seu símbolo civilizatório que não deveria fazer sentido nestes trópicos, onde os mapas da vida, do corpo e da morte seguiam, e seguem, outros códigos, outras temporalidades e outras formas de existência que a colonialidade insiste em apagar.
*Diósnio Machado Neto é Professor Livre-Docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP); professor do programa de Pós-Graduação em Musicologia do Departamento de Música da ECA-USP
![Homero Velho e Saulo Javan em cena de 'Don Giovanni' [Divulgação/Larissa Paz]](/sites/default/files/inline-images/w-donggiovanni.LARISSA-PAZ-scaled.jpg)
É preciso estar logado para comentar. Clique aqui para fazer seu login gratuito.
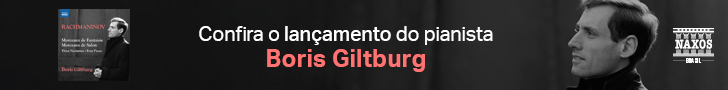


![Maestro Manfredo Schmiedt, diretor artístico da Ospa [Divulgação/Daisson Flach] Maestro Manfredo Schmiedt, diretor artístico da Ospa [Divulgação/Daisson Flach]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-Manfredo-Schmiedt-_-Daisson-Flach_1.jpg?itok=qtFhiHKO)
![Victor Enzo, Natan Janczak, Eloisa Rocha, David Moraes e João Paulo Rocha [Dvivulgação] Victor Enzo, Natan Janczak, Eloisa Rocha, David Moraes e João Paulo Rocha [Dvivulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-bolsistas_0.jpg?itok=aL5N6Zka)
![Sala de espetáculos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro [Divulgação] Sala de espetáculos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-teatromunicipal3-1024x668_0_0.jpg?itok=FpLVreBT)

![Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação] Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-ensemble_k_simone_site1.jpg?itok=fm8zKcaK)

![Daniil Trifonov e músicos da Osesp na Sala São Paulo [Reprodução/Facebook] Daniil Trifonov e músicos da Osesp na Sala São Paulo [Reprodução/Facebook]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-trifonov_0.jpg?itok=zDkDmO1w)
![O Coral Paulistano durante o concerto da noite de quinta-feira [Divulgação/Rafael Salvador] O Coral Paulistano durante o concerto da noite de quinta-feira [Divulgação/Rafael Salvador]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-coral_paulistano.jpeg?itok=ael52u5G)
![O pianista Allan Duarte Manhas [Divulgação/Vitreo Fotografia] O pianista Allan Duarte Manhas [Divulgação/Vitreo Fotografia]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-manhas_by%20Vitreo%20Fotografia_0.jpg?itok=RgE9rK8h)





Comentários
Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião da Revista CONCERTO.