Com tudo que aconteceu desde então, já parece passado distante o fato de que a temporada lírica em São Paulo começaria este ano com uma nova produção da Aida, de Verdi. Não sabemos se ela ainda vai acontecer. Mas escolhi a ópera como companheira nessas primeiras semanas de isolamento. Um exercício divertido (gente estranha essa que gosta de ópera): ouvi dezoito gravações. Sem métodos ou objetivo específico além de revisitar tantos grandes cantores, maestros, registros históricos e ouvir algumas gravações pela primeira vez.
E de repensar também algumas certezas sobre esta ópera “estranha” no universo de Verdi. Estranho, talvez, seja tratar dessa forma uma obra tão célebre e tão associada ao nome do compositor. Mas a fama de algumas passagens na verdade eclipsa o fato de que ela também merecer ser pensada à luz da evolução da criação verdiana.
Aida, princesa etíope, vive como escrava entre os egípcios. Apaixona-se por Radamés, líder do exército inimigo, que por sua vez é alvo da paixão de Amneris, filha do rei egípcio. Os dois se amam, querem estar juntos. Mas, como vai mostrar Amonasro, o rei etíope, esse amor é irrelevante perante a necessidade de salvar a pátria. E, com traições de todos os lados, vai restar ao casal apenas estar juntos na hora da morte.
Em Aida, Verdi se afasta do texto quase em prosa de Don Carlo e ainda não assumiu completamente o discurso contínuo que será a marca de Otello e Falstaff. Também retorna a um enredo que é pouco mais do que uma história de amor às antigas, com um final trágico. Mas, em sua caracterização, vai além da oposição entre heróis e vilões. E cria estruturas brilhantes do ponto de vista teatral – a cena final, com o dueto de amor acompanhado de Amneris e do coro, com uma música que simplesmente desaparece... É efetivo, pungente. E estabelece de maneira palpável a oposição entre indivíduo e coletivo que, no final das contas, é um dos grandes temas verdianos.
Mas, enfim, vamos ao que interessa.
Comecei, como se diz, do começo. Nos anos 1940. Mas logo me lembrei de Daniel Barenboim. Há um texto precioso no qual ele fala do papel do silêncio na música. O primeiro compasso de uma obra, ele escreve, jamais é o primeiro – ela começa antes, no estado de espírito em que o músico decide romper o silêncio com as primeiras notas da partitura. É como se a música estivesse soando continuamente, sempre na iminência de ser ouvida: uma ideia fascinante, que muda radicalmente, ele acredita, o sentido do ato de fazer música e de qualquer interpretação que se possa dar a uma peça.

É uma maneira de explicar o impacto dos primeiros compassos do Prelúdio na gravação de 1946 do maestro Tulio Serafin, no Scala de Milão. Eles nos mergulham na história de uma forma... É como se nos levassem de volta a uma lembrança já vivida, guardada no fundo da memória, mas mais presente do que gostaríamos de admitir.
Se a expressividade se mantém o tempo todo, em alguns momentos o canto a leva ao exagero, ainda que Beniamino Gigli ou Maria Caniglia não soem tão caricatos como muitos críticos já os definiram (as notas e textos que ele inventa ao longo da ópera são curiosamente divertidos). Gino Becchi tem aquele timbre antigo que nos acostumamos a definir como “barítono verdiano”. Certo, a escrita de Verdi para a voz é tão rica e diversificada que a essa altura sabemos que isso não existe. Mas se existisse, se pareceria muito com a voz de Becchi, que vale a gravação, assim como a Amneris aristocrática de Ebe Stigani (seu dueto com Aida chega a dar medo) e o Ramfis de Tancredi Pasero (o rei é o grande baixo Italo Tajo).
Um ano depois, Arturo Toscanini grava Aida nos Estados Unidos, com a orquestra da NBC, Herva Nelli, Richard Tucker, Giuseppe Valdengo e Eva Gustafson. A expressividade de Toscanini é mais cerebral. No Prelúdio, opõe a delicadeza dos violinos (a superfície do Nilo) com a aspereza turbulenta das cordas graves (as profundezas do rio). É sobre contrastes como esse que se baseia sua leitura – e o Radamés de Tucker é o melhor exemplo do chiaroscuro no qual Toscanini aposta.
Se seguíssemos a ordem cronológica, o marco seguinte seria a Aida de Maria Callas no Scala de Milão, em 1955, com regência mais uma vez de Tulio Serafin. Mas, antes, uma parada em 1951, com outro registro de Callas (lançado em CD, mas pirata, de tapa-olho e tudo), ao vivo, na Cidade do México. O elenco é deslumbrante: Mario del Monaco, Giuseppe Taddei e Oralia Dominguez, sob regência de Oliviero de Fabritiis.
É impressionante a energia da gravação, com o heroísmo hercúleo de Del Monaco encabeçando os esforços da trupe. Fabritiis, se não parece muito atento a detalhes, sabe criar efeitos quando menos esperamos. E, quando esperamos, não decepciona. Acontece na Marcha, no dueto entre Radamés e Amneris – e no dueto entre Aida e Amonasro, com raios e trovões quando o pai investe contra a filha, a quem acusa de traição.
O dueto é uma das partes mais interessantes da ópera. Em uma das vezes em que esteve no Brasil, o barítono Juan Pons me disse em uma entrevista que ele oferece ao barítono uma vantagem enorme: apesar de ser um papel muito difícil do ponto de vista vocal, Amonasro canta apenas esta cena e o concertato que encerra o ato anterior, ou seja, o cantor pode oferecer tudo o que tem sem se preocupar com o que vem depois.
Mas há uma justificativa do ponto de vista dramático. A oposição entre o sentimento individual e o dever coletivo e a relação atribulada entre pais e filhos são dois dos principais temas de Verdi. E, aqui, aparecem juntos. O compositor sabia das coisas. Tudo é duro. Mesmo a evocação da lembrança da terra natal, com que o pai tenta convencer a filha a trair Radamés em nome do exército etíope, não dura mais do que alguns compassos. E essa dureza torna ainda mais intensos os momentos de lirismo. A sucessão de sensações conflitantes é deliberada, como se mostrasse o turbilhão de pensamentos que se passa na cabeça da pobre Aida naquele instante.
Por tudo isso, Giuseppe Taddei soa como um trator em cena. Claro, naquele momento interpretações de corte verista eram a regra, à qual não fogem também Del Monaco e Oralia Dominguez, por sinal. (O registro de Jonel Perlea, com Zinka Milanov, Jussi Bjöerling e Leonard Warren, da mesma época, é outro exemplo perfeito de como o time de cantores pode jogar para segundo plano qualquer tentativa de sutileza, o que importa pouco quando temos a chance de ouvir o Ramfis de Boris Christoff).
“Renata Tebaldi e Carlo Bergonzi oferecem um vigor vocal impressionante. Mas não mais do que isso”
Mas, não muito tempo depois, um cantor como Cornell MacNeill (no registro de 1959 com Herbert von Karajan e a Filarmônica de Viena) cria pequenas inflexões que dão uma outra dimensão dramática ao dueto. Ainda sobre Karajan: Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi e Giulieta Simionato são no papel um elenco de sonho. É, de fato, uma experiência de vigor vocal impressionante. Mas não me pareceu muito mais do que isso.
Por isso, já peço desculpas preventivas ao leitor. E faço uma ressalva: em 1967, no Metropolitan de Nova York, com regência de Thomas Schippers, Bergonzi é muito mais interessante e expressivo, mesmo que sempre na chave heroica e com aquelas notas alongadas, tão deliciosas quanto desnecessárias. E Tebaldi, regida por Alberto Erede, em 1952, é capaz de sutilezas comoventes.
Para encerrar os anos 1950, voltemos então a Callas, Serafin, Tucker, Barbieri e Tito Gobbi. Serafin mais expressivo do que nunca. Callas, atenta ao estilo, capaz de fazer o que bem entende com a voz, sempre com bom gosto e sentido dramático. Tucker, mais do que na gravação de Toscanini, é uma mistura bem acabada de força e lirismo. Barbieri, uma gigante (sobre ela, apenas uma coisa: ouçam, ouçam, ouçam, ouçam!), assim como o baixo Niccola Zaccaria como o Rei.
Mas queria falar um pouco mais de Gobbi (os mais atentos já perceberam que tenho uma queda pelo papel de Amonasro, juro que vou falar disso na terapia). O primeiro LP de ópera que ouvi inteiro foi o seu Rigoletto, e sua voz me impressionou muito, mais do que a de Callas, mais do que a de Giuseppe Di Stefano. Era algo instintivo, claro, eu não devia ter mais do que 14 anos àquela altura. Mas me marcou, tanto que minhas óperas seguintes foram escolhidas pela presença dele no elenco: Otello (com Vickers, Rysanek e Serafin) e Nabucco (com Lamberto Gardelli e Elena Suliotis).
Segui ouvindo Gobbi. No ano passado, escutando de novo aquele seu Rigoletto, me dei conta de que, no fundo, foi ele quem me puxou irremediavelmente para o universo da ópera. Seu desespero no final, tendo em mãos o corpo da filha à beira da morte, me ensinou, muito tempo antes de eu poder entender isso, que ópera era teatro. Há essa qualidade em Gobbi, algo de profundamente humano, seja ele um vilão como Scarpia ou um pai que sofre como Rigoletto. E não é dessa humanidade que fala o teatro?
“Com Solti, a força da orquestra é tamanha que dá a sensação dela estar avançando em nossa direção na sala de casa”
Mas, enfim, de volta a nossa jornada, chegamos aos anos 1960, quando surge uma nova Aida no cenário (e para muitos, a melhor de todas): Leontyne Price.
Em 1962, ela grava a ópera com Jon Vickers, Robert Merrill, Rita Gorr, a Filarmônica de Viena e o maestro Georg Solti. A certa altura, a força da orquestra é tamanha que dá a sensação dela estar avançando em nossa direção na sala de casa. É conhecido, enfim, o caráter enérgico das leituras de Solti, e como ele encontra eco nas grandes (enormes) vozes à disposição (no dueto entre Radamés e Amneris, é como se Siegmund e Fricka tivessem trocado o Reno pelo Nilo). Mas, por outro lado, Price soa muito mais madura, profunda, na gravação de 1970 com Erich Leinsdorf. Seu Patria Mia é comovente, assim como o dueto matizado que encerra a ópera, desta vez com um jovem Plácido Domingo como Radamés (e uma elegante Grace Bumbry como Amneris).
Por falar no Reno, acabei com meu preconceito com a soprano Birgit Nilsson, grande intérprete wagneriana, no repertório italiano. Seu Patria Mia é uma lição de sutileza, com uma delicadeza no sofrimento que poucas vezes ouvi nessa maratona. Na verdade, acho que entendi qual era o meu problema com suas gravações deste repertório: seu companheiro na maior parte delas, o tenor Franco Corelli. Aqui, peço desculpas mais uma vez ao leitor, mas Corelli não me convence: toda tentativa de nuances soa superficial e, nos momentos de heroísmo, prefiro Bergonzi. Ou mesmo o Luciano Pavarotti da gravação de Lorin Maazel, em 1986 – mas depois voltamos a ela.
A regência é de Zubin Mehta, que por volta dessa época fará importantes registros de ópera: seu Trovatore de 1969 com Price, Domingo, Sherril Milnes e Fiorena Cossotto está sempre no topo da lista de gravações de referência da ópera. Mehta, de alguma forma, abre uma tendência que se torna a marca das duas décadas seguintes: leituras autorais, mas sem exageros, na orquestra e no canto. Leituras de dentro para fora e não o contrário (a delicadeza que ele encontra nas madeiras em passagens de Celeste Aida, por exemplo, ou na cena coral do segundo ato, é surpreendente).
“Há algo na combinação da exaltação romântica de Domingo com a delicadeza solene de Caballé que soa muito interessante”
Em 1974, Riccardo Muti grava a ópera no Scala, com Domingo, Montserrat Caballè, Piero Cappucilli e Fiorenza Cossotto. Sua aversão a exageros é tamanha que em alguns momentos a música soa até fria (e radicalmente diferente de sua versão ao vivo, em Munique, em 1979, muito superior do que sua oferta em estúdio, apesar de uma outra imprecisão). Questão de gosto, talvez, assim como Cappuccilli: está tudo no lugar, o timbre é maravilhoso, mas ele nunca me parece envolvido com os papeis que interpreta, o oposto de Gobbi. Caballè e Domingo formam um par estimulante (aqui e em outras gravações da época, como Manon Lescaut, de Puccini). Há algo na combinação da exaltação romântica de Domingo com a delicadeza solene de Caballé que me soa particularmente interessante. E Cossotto e Nicolai Ghiaurov, aqui no papel de Ramfis: ouçam, ouçam, ouçam!
Em seguida, vem Claudio Abbado, 1982, com as forças do Scala e Domingo, Katia Ricciarelli, Leo Nucci e Elena Obraztsova. Acontece um mistério. Ricciarelli, nas árias, soa hesitante, em especial quando tem que lidar com flutuações dos graves para os agudos (era papel para ela?). Domingo também não convence. Mas, juntos, eles criam duetos de sensibilidade comovente. Também porque têm à sua frente Claudio Abbado. O que em Muti parece frieza, em Abbado é precisão: você ouve tudo, cada inflexão, cada detalhe. Se os anos 70 e 80 são símbolos da fuga do exagero verista em direção a leituras mais sóbrias, a gravação Abbado é sua melhor realização.
Mas há ainda outra: Lorin Maazel, em 1986. O elenco tem Pavarotti, Maria Chiara, Ghena Dimitrova e Leo Nucci (na versão em vídeo, o barítono é Juan Pons, cantor que, por mais reconhecido que seja, me parece subestimado no panorama lírico desse período). Mais do que o elenco, chamam atenção as escolhas de Maazel, com uma espécie de emoção reprimida: ficamos esperando o tempo todo para que ela exploda até nos darmos conta de que não vai explodir – e é disso que se trata. Do ponto de vista do canto, estão todos bem: Chiara é elegante, Nucci é pura força, Dimitrova, intensa. Mas por algum motivo, juntos, não funcionam: é como se cada um estivesse preocupado com sua própria interpretação, sem ouvir quem está ao seu lado. Acontece.
“Levine é impressionante em cada detalhe que encontra; nas árias, é como se fizesse música de câmara com os cantores”
Aida desaparece dos estúdios por um tempo. Retorna em 1991, em gravação do Metropolitan Opera com James Levine. Aprile Milo é a protagonista. Está no auge da voz. Mas o ralentando constante, em especial nas árias, é um efeito superficial e que acaba cansando. Domingo faz aqui seu Radamés menos rico em nuances. Mas Levine é impressionante em cada detalhe que encontra; nas árias, é como se fizesse música de câmara com os cantores, ainda que, no segundo ato, os andamentos frenéticos sejam pouco mais do que pura exibição da capacidade técnica alcançada pelos corpos do Met.
Daqui em diante, a indústria fonográfica começa a minguar, assim como os registros de óperas completas. Contei apenas mais duas Aidas. A primeira é um experimento: Nikolaus Harnoncourt levando para o século XIX as técnicas da música historicamente informada. Se você deixa de lado toda a tradição de interpretação do repertório italiano, há muito a ser apreendido na sonoridade que Harnoncourt busca. Na grande cena coral do segundo ato, você ouve com clareza cada linha, sem sacrifício de um canto idiomático: Olga Borodina como Amneris pairando sobre todo o elenco formado por Cristina Gallardo-Domas, Vincenzo la Scola e Thomas Hampson (que fraseados!).
O registro é de 2001. E o próximo viria apenas em 2015, em Roma, com Anja Harteros, Jonas Kauffman, Ekaterina Semenchuk e Ludovic Teziér. Harteros e Kauffman formam hoje uma dupla capaz de simbolizar para nossa época o que as parcerias Callas-DiStefano, Caballe-Domingo ou Pavarotti-Sutherland simbolizaram para suas épocas. E isso é motivo suficiente para que deixem registros do grande repertório. Mas o que me mais me fascinou é o senso de estrutura com que Antonio Pappano se aproxima da partitura: nos dois primeiros atos, ele faz de Aida um grande oratório, que se transmuta em puro drama operístico a partir do terceiro ato.
Quando o entrevistei, pouco tempo depois, perguntei a ele sobre isso. E sua resposta me parece definir o que Aida tem de especial. “Ela não pode ser tratada como qualquer ópera. Há, por trás do óbvio, um comportamento evasivo de todas as personagens, que não é passional da maneira convencional. Há segredos, mentiras, sobre os quais, ao contrário do que é comum em óperas, eles demoram a se pronunciar.”
Pronto, as gravações que eu havia separado acabaram – assim como os adjetivos.
Mas, antes de partir, uma pequena reflexão, tentando responder à pergunta que me fiz em diversos momentos dessa jornada: para que ela serve? No fundo, acho que ela é afetiva. Todas essas vozes fazem parte do imaginário do amante da ópera. Um timbre é capaz de nos levar não apenas a outro tempo na história da ópera, mas a outros momentos de nossa própria história, quando o conhecemos. A música tem esse poder – e a gente devia usá-lo com mais frequência.
Leia mais
Opinião Leia textos dos colunistas do Site CONCERTO
Notícias Osesp anuncia remarcação de todos os concertos suspensos
É preciso estar logado para comentar. Clique aqui para fazer seu login gratuito.
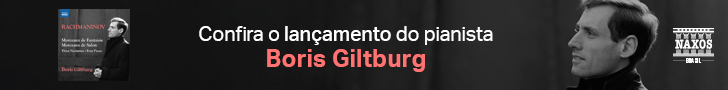

![O compositor e professor Leonardo Martinelli [Divulgação] O compositor e professor Leonardo Martinelli [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-Leonardo_entrevista_2.jpg?itok=saweUZ9M)
![Valentina Lisitsa [Divulgação] Valentina Lisitsa [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-valentina-lisitsa-Photo-by-Gilbert-Francois-4p_0.jpg?itok=imCnWkdw)

![A Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação/Eugenio Savio] A Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação/Eugenio Savio]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-01_especial1_2025-02-20-foto_eugenio_Savio_577_baixa_0_0.jpg?itok=i4SrlQGl)
![O tenor Flavio Leite, presidente da CORS, assina a direção cênica do espetáculo [Divulgação] O tenor Flavio Leite, presidente da CORS, assina a direção cênica do espetáculo [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-flavio_leite_1.jpeg?itok=faJ6Q2qT)
![Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação] Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-ensemble_k_simone_site1.jpg?itok=fm8zKcaK)

![Daniil Trifonov e músicos da Osesp na Sala São Paulo [Reprodução/Facebook] Daniil Trifonov e músicos da Osesp na Sala São Paulo [Reprodução/Facebook]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-trifonov_0.jpg?itok=zDkDmO1w)
![O Coral Paulistano durante o concerto da noite de quinta-feira [Divulgação/Rafael Salvador] O Coral Paulistano durante o concerto da noite de quinta-feira [Divulgação/Rafael Salvador]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-coral_paulistano.jpeg?itok=ael52u5G)
![O pianista Allan Duarte Manhas [Divulgação/Vitreo Fotografia] O pianista Allan Duarte Manhas [Divulgação/Vitreo Fotografia]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-manhas_by%20Vitreo%20Fotografia_0.jpg?itok=RgE9rK8h)





Comentários
Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião da Revista CONCERTO.
Obrigado pela aula !…
Obrigado pela aula !
Concordo com a sua referência ao Cappuccilli.